Autobiografia: o mundo de ontem, de Stefan Zweig
“Mas a nossa geração aprendeu a fundo a boa arte de não lamentar o passado, e, quem sabe, a perda de documentos e detalhes possa vir a significar um ganho para este meu livro. Pois eu considero nossa memória um elemento que não conserva casualmente um ou perde outro, mas sim uma força que ordena cientemente e exclui com sabedoria. Tudo o que esquecemos de nossas próprias vidas, na verdade, já foi sentenciado a ser esquecido há muito tempo por um instinto superior. Só aquilo que eu quero conservar tem direito de ser conservado para outros. Portanto, recordações, falem e escolham no meu lugar, e forneçam ao menos um reflexo da minha vida antes que ela submerja nas trevas!” [Do prólogo - p. 18.]
Errante pelo mundo, distante do que lhe foi familiar, confrontado pelo futuro que se apresenta como brumas e estampidos brutos, Stefan Zweig se encontra nu no tempo e no espaço, capaz de se apoiar tão somente no que a memória lhe legou, matéria que, sem sua voz, periga se perder para sempre nas mesmas brumas e estampidos, acompanhando seu corpo físico, que já clama por descanso. Contudo, a memória é um campo igualmente incerto, traiçoeiro; logo, fiar-se nela como prumo talvez não corresponda a encontrar uma base firme, mas antes a se afundar mais um pouco no fluxo das coisas que escapam às mãos; entretanto Zweig, aprendiz das lições do amigo Freud, não se permite deter por essa percepção vulgar, ciente que está de que o que importa - o que sobra depois de tudo - resiste a tudo e jaz nas profundezas do ser, à espera de resgate: marcas indeléveis são assim nomeadas justamente porque infensas à supressão. Reduzido ao mínimo essencial, o escritor austríaco faz com sua história o que fizera outrora com grandes personalidades da vida pública europeia; relata o que viu, o que pensou, como reagiu, o que sentiu, e, principalmente, o que ficou irrecuperavelmente para trás; tenta assim salvar do passado e lançar ao futuro o que a fúria do presente ameaça consumir sem piedade, como um dos poucos elos capazes de estabelecer essa ligação, também ele prestes a ser consumido. Despojado, peregrino, reduzido ao espírito e à crença na perpetuidade da palavra, Zweig, na culminação de sua existência, recorda e atualiza a sina do seu povo, judeus que, inobstante criados e eleitos por Deus, simbolizam no palco dos séculos a desdita humana e sua incompletude terrena essencial.
A autobiografia de Zweig carrega esse título não tanto por se dedicar à narrativa da vida do escritor austríaco e suas vicissitudes, mas sim porque, a partir do seu testemunho ocular, retrata um passado tornado distante pela voragem abrupta dos acontecimentos históricos; a autobiografia, aqui, resulta da primeira pessoa que narra, e não da matéria objeto da narrativa. No entanto, não há falar que o narrador conte sobre fatos alheios ao círculo imediato da sua existência: o mundo que descreve liga-se umbilicalmente a sua trajetória de vida, e o drama reside no fato de que, em certo momento, esse mundo invade irresistivelmente a esfera pessoal, vencendo qualquer tentativa de oposição que esta pudesse ensaiar.
E que mundo foi esse, esse mundo de ontem? Stefan Zweig nasceu em 1881, em Viena, então capital do secular Império dos Habsburgo, no seio de uma família judaica ascendente, que nas últimas décadas se consolidara como afortunada e de bom nome graças à industrialização austríaca, a qual lhe proporcionara estabelecer-se com sucesso no ramo da tecelagem. A mãe de Zweig, nascida em Ancona, na Itália, também provinha de uma família judaica abastada, esta ainda mais influente e ciosa do seu bom nome, dado que se espalhava pelo mundo na consecução de atividades bancárias. Por sua própria localização geográfica, Viena sempre esteve vocacionada a ser o centro da Europa: igualmente próxima do ocidente francês e inglês; do norte alemão, báltico e escandinavo; do sul mediterrâneo; e do oriente húngaro e eslavo; as mais variadas influências convergiam a esse centro natural. A par do fato geográfico, a constituição do Império Austro-Húngaro e as políticas que adotava para acomodar as diversas nacionalidades que o compunham contribuíam para criar um ambiente acolhedor e cosmopolita, refratário à discriminação e homogeneidade cultural. Nesse contexto, os sempre perseguidos judeus - muitos deles, a essa altura da história, secularizados -, encontraram a oportunidade perfeita para se estabelecerem, prosperarem, e - quem sabe? - finalmente se assimilarem ao entorno, deixando dessa maneira para trás as marcas que, de tempos em tempos, serviam à estigmatização. Somados esses fatores, o que se viu foi a emergência de um período áureo de convivência pacífica, segurança nas relações sociais e efervescência da cultura.
Muito embora o Império fosse tão tolerante e plural, certas porções de sua composição eram tradicionalmente destinadas a determinados grupos sociais, de modo que os judeus, posto que ricos, não podiam ambicioná-las e assim se inserirem plenamente na alta roda social. Aproveitando-se do vácuo deixado pelo recente deslocamento de interesses da casa real e da nobreza - do patrocínio das artes para outros campos, os judeus tornaram-se grandes mecenas e entusiastas da cultura que efervescia, e, num segundo momento, como era natural, eles mesmos protagonistas e artífices desse fenômeno. O mecenato judaico cumpria uma dupla função: proporcionava aos judeus estabelecerem um “feudo” social que fosse próprio e respeitável, ao mesmo tempo que dava vazão à estima e ambição que sempre tiveram pelas atividades do espírito.
Zweig, portanto, cresceu em meio ao burburinho e brilho da cultura, interessando-se desde cedo pelas artes. As descrições que faz do quanto os vienenses eram aficionados pele belo, bem como da seriedade com que encaravam tudo o que ao belo se relacionava, constituem os trechos mais interessantes e inspiradores da obra. E esse grande desenvolvimento do espírito, Zweig salienta bem, dava-se contra um pano de fundo de entranhadas estabilidade e segurança, em que a previsibilidade das interações sociais, dos rendimentos das aplicações financeiras, do porvir, enfim, era a norma.
Nesse ambiente assaz benfazejo, o jovem Zweig também dava seus primeiros passos no campo das letras, interagindo, concomitantemente, com os grandes nomes das artes que então emergiam como colegas de geração. Ser judeu em busca de assimilação, e em busca de assimilar-se especialmente no ambiente tolerante da Viena da época, levou Zweig a ambicionar e dirigir seus esforços a algo mais elevado, tanto através da sua escrita como através da sua atuação pública mais geral: a unidade espiritual da Europa, um senso de cosmopolitismo que vencesse as fronteiras nacionais. Com base nessa premissa, fez viagens, estabeleceu amizades e se expressou publicamente.
Um solo firme e fértil a partir do qual lançar-se ao mundo, a fim de enlaçá-lo num abraço fraterno: é o que Zweig começa a perder paulatinamente a partir de determinada quadra da vida. A Primeira Guerra Mundial esgarça a trama institucional austríaca, interrompe suas amizades internacionais, confina-o ao trabalho solitário na Áustria natal, de certa forma emudecido, pois levado pelas circunstâncias, em caso de expressão, a tomar partido contra partes com as quais não desejava oposição, mas sim comunhão. A estada na Suíça neutra proporciona-lhe alívio, pois ali pode ensaiar a unidade europeia tão querida e perceber os benefícios dos esforços conjuntos, ainda que em meio a adversidades. Ao fim da guerra, segue-se a derrocada do antigo Império Austro-Húngaro, antes símbolo máximo da perenidade e segurança da Áustria. Ao fim do Império, seguem-se as dores de parto da incipiente República da Áustria, caracterizadas pela inflação galopante que desnorteava as pessoas e estremecia as relações sociais; agora não existem as antigas bases sólidas da política e da economia. Quando a inflação austríaca é controlada, a inflação na vizinha Alemanha desponta e assume feições inacreditáveis de fábula, criando dessa forma o ambiente perfeito para o descontentamento das massas e a radicalização da política. A república austríaca é demasiado jovem e frágil para resistir a qualquer abalo mais forte da poderosa vizinha.
Não obstante as várias turbulências do período, entre 1924 e 1933 as forças do caos parecem se encontrar contidas nos subterrâneos da convivência social regular, e Zweig, mundo afora, a partir da casa na pequena e florescente Salzburgo, consegue encontrar a clareira necessária para finalmente criar as obras em prol das quais sempre se preparara, e ganhar a fama que merecia, fazendo-se prezado por milhões de leitores ao redor do globo, principalmente no ambiente cultural alemão que constituía seu elemento natural, num verdadeiro e singular fenômeno editorial. Poesias, peças teatrais, colaborações com músicos de renome, novelas, romances, ensaios e as famosas biografias, que tanto o notabilizaram, são produzidos ou ganham maior difusão nesse período. Ao lado da produção artística, Zweig, afortunado, coleciona manuscritos antigos, que adornam sua casa em Salzburgo. Tudo aponta para o restabelecimento da segurança e entusiasmo de outrora.
Todavia, as forças de destruição submergidas naquele decênio feliz finalmente afloram com ímpeto à superfície, loucas e prenhes de som e fúria. Hitler ascende ao poder na Alemanha, a Áustria periclita mais do que nunca, e os judeus deixam de dispor de paz, inquietando-se pelo dia seguinte. Férias que Zweig pretendia passar na França são, por outros motivos, transferidas à Inglaterra, terra e gente com os quais o escritor nunca conseguira engendrar uma comunhão mais profunda, apesar de sua vocação universalista; uma vez ali, distrai-se com novos projetos, nomeadamente a biografia de Maria Stuart, não sem também alarmar-se com as notícias aziagas que se avolumam; o tempo corre, os acontecimentos se desdobram e, às vésperas do segundo casamento em Bath, já como um apátrida solto no mundo, finalmente escuta a notícia de que a guerra se instaurava, tendo falido, portanto, a diplomacia.
É dramático o corte que o escritor austríaco, ora apátrida, decide dar à autobiografia. Sabemos que depois de Bath, ainda viveu dois anos, peregrinando pelo mundo até aportar no Brasil, onde se suicidou desesperançado e sem chão, enquanto a Segunda Guerra Mundial ainda grassava. Entretanto, considerando os fins a que se propusera, de fato, não havia mais o que contar: o projeto visava a dar testemunho do mundo de ontem; infelizmente, a história que tinha início ali em Bath e que sobrepujaria sua existência, não era mais passado, mas antes um doloroso e imprevisível presente.
O formato escolhido por Zweig coloca o leitor sempre na expectativa de saber mais das particularidades da sua própria vida, que apenas se insinua ao longo da obra, sem nunca se revelar às claras. Embora seja o retrato de uma época, de uma geração em particular sobretudo - muito privilegiada, vale dizer -, a obra não se destina a cartografar a intelectualidade do período, de modo a se inserir na história das ideias; tampouco - aliás, muito menos -, a tecer a historiografia daqueles tempos; ela é, isto sim, o impulso individual de externalizar aquilo que a história e suas surpresas deixaram como marcas indeléveis na vida de alguém tão sensível e alerta, o testemunho que só quem viu o que viu poderia dar, sob pena de que nenhum outro esforço, de diverso tipo, conseguisse recuperar semelhantes impressões. A Viena de Zweig e a derrocada a que pessoas como ele foram submetidas compõem uma peça musical insólita, em que ao júbilo do início segue, como que num descompasso, uma lúgubre marcha fúnebre; a autobiografia de Zweig, a autobiografia do mundo de ontem, que também era ele próprio no passado, é o derradeiro canto do cisne, o mais belo e essencial, sôfrego, pois.
Finda a leitura, é difícil deixar de perceber a comunhão com a sina judaica que Zweig parece encontrar, as tintas fortes com que a pinta e os ecos cósmicos que emite, a ponto de poder ser identificada com a sina da humanidade peregrina e errante pelo globo. Este o trecho exemplificativo - conquanto extenso, merece a leitura integral:
“Nunca haverei de esquecer a imagem quando, certa vez, entrei em Londres em uma agência de viagens; estava lotada com refugiados, quase todos judeus, e todos queriam ir para algum lugar. Não importava para que país, para o gelo do polo Norte ou as areias abrasadoras do Saara, queriam sair, ir adiante, pois a licença para permanecer no país havia expirado, era preciso seguir, com mulher e filhos, para outros países, de língua estranha, para o meio de pessoas desconhecidas e que não os queriam. Encontrei ali um homem que fora um industrial muito rico em Viena, um dos nossos mais inteligentes colecionadores de arte; no primeiro momento, nem o reconheci, de tão grisalho, velho, cansado. Fraco, ele se segurava na mesa com as mãos. Perguntei-lhe para onde queria ir. “Não sei”, disse ele. “E quem ainda pergunta pela nossa vontade? Vamos aonde nos deixam ir. Alguém me disse que aqui talvez ainda se consiga um visto para o Haiti ou Santo Domingo.” Meu coração quase parou: um velho senhor cansado, com filhos e netos que treme de esperança de se mudar para um país que antes nunca viu direito no mapa, só para continuar mendigando lá, sendo estrangeiro e inútil! [...] Assim, todos se aglomeravam, antigos professores universitários, diretores de banco, comerciantes, fazendeiros, músicos, cada um disposto a carregar os miseráveis escombros de sua existência não importava para onde no mundo, atravessando os mares, suportando qualquer coisa, só para sair da Europa, ir para longe! Era um bando fantasmagórico. Contudo o mais trágico para mim foi a ideia de que essas cinquenta pessoas torturadas representavam uma vanguarda diminuta do enorme exército dos cinco, oito, talvez dez milhões de judeus que atrás deles já estavam em marcha e avançavam, todos esses milhões de indivíduos roubados e depois ainda massacrados na guerra que esperavam remessas das instituições de caridade, permissões das autoridades e o dinheiro para viajar, uma massa gigantesca que, espantada e fugindo em pânico do incêndio de Hitler, em todas as fronteiras da Europa sitiava as estações de trem e lotava as prisões, um povo inteiro expulso a quem se proibia ser um povo - e, ao mesmo tempo, um povo que há dois mil anos nada desejava com tanto anseio quanto não mais ter que caminhar e sim sentir sob seus pés em repouso a terra, uma terra tranquila, pacífica” (p. 376/377).
Na tragédia protagonizada por Zweig, vislumbra-se o perene drama humano: a impermanência da paz e felicidade, o devir em perecimento das conquistas materiais, e o ímpeto - surpreendente - de ainda assim continuar caminhando, com mulheres e filhos, mesmo que rumo a um país que não se possa identificar no mapa, para tentar tudo mais uma vez. Nas partes está contido o todo; a música insólita, jubilosa no início e fúnebre no final, fadada está a se repetir em sequência ininterrupta, variando apenas na duração de cada trecho.


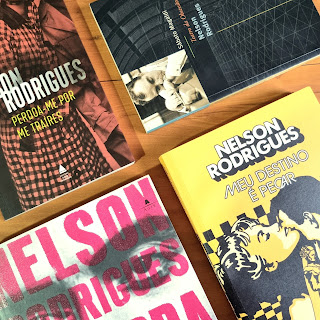

Comentários