Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis
Vista a vida como um todo, posso considerar que minha relação com Machado de Assis tem sido errática, errática muito embora recentemente tenha lido uma novela e três romances do autor; isto porque sou leitor há muitos anos e, apesar de ter lido Machado em minha adolescência e não ter sido acometido por nenhum trauma em particular, persisti leitor por dez anos sem voltar a sua obra - que por certo não esgotara - até maio de 2018, quando, por um acaso - como acostuma acontecer com os principais lances de minha história literária -, peguei a edição de O Alienista e Outros Contos na estante e me apaixonei - agora sim pela primeira vez - pelo célebre Machado. O resultado dessa experiência foi o vídeo que fiz exclusivamente sobre O Alienista*, em que penso ter conseguido expressar quase tudo que extraí da novela naquela releitura. Na sequência, no início de 2019, li pela primeira vez Quincas Borba e Esaú e Jacó; gostei muito de ambos, especialmente de Quincas Borba, o qual, arrisco dizer, até agora é o meu preferido entre os romances machadianos; entretanto, não fiz vídeo ou texto à época, de modo que minhas impressões então vívidas se desvaneceram, obrigando-me agora a reler as obras a fim de comentá-las em público - o que certamente não será um desprazer. Já no finzinho de 2019 reli Memórias Póstumas de Brás Cubas (doravante MPBC), romance cuja primeira leitura, apesar de existente, tanto se perdia na lonjura do tempo que agora foi como um primeiro contato. Porque não quero que aconteça às Memórias o mesmo que com Quincas e Esaú, venho com pressa registrar minhas observações.
MPBC são um romance idiossincrático por causa da excentricidade de ser assinado por um defunto autor. Essa premissa estampada no título sugere que o leitor se defrontará com o fantástico e o sobrenatural, participará do que acontece depois da morte, terá revelações que lhe permitam um novo olhar sobre a vida. Todavia, nada disso acontece. A premissa fantástica se limita à condição e localização do narrador - um morto no além túmulo -, nenhum outro detalhe sendo dado acerca dessa condição e localização. Entretanto, a promessa de um novo olhar sobre a vida acaba por ser cumprida, ainda que de forma melancólica e fragmentária, e não exaltada e absoluta, como se esperaria de uma visão transcendente.
Brás Cubas foi um homem de classe média alta no Rio de Janeiro do Império. Sua vida não teve lances que lhe impingissem um caráter trágico, tampouco foi uma sucessão de acontecimentos felizes que lhe conferissem um caráter idílico. Sua árvore genealógica não era nobre; porém, seus parentes, à força de recontá-la em outros termos e se insinuar pela escada social, conseguiram alcançar uma condição confortável, suficiente para terem orgulho de si, conquanto sem perder de vista o muito que havia a galgar. Na infância, foi um menino levado, de certo modo mimado, que não conheceu dificuldades. Entrado na adolescência, teve a experiência do amor e do seu arrebatamento; no entanto, para além da adolescência, ao longo da vida toda, o arrebatamento sempre foi fugaz, terminando ora na descoberta da perfídia da moça, ora nos obstáculos impostos pelas diferenças sociais e ambição, ora na derrota a outro pretendente, ora ainda na própria morte repentina daquela que lhe prometia trazer a felicidade burguesa. Em um desses episódios de amor interrompido, foi enviado a Coimbra pelo pai; não é revelado muito sobre os estudos ali empreendidos; Brás Cubas apenas informa pontualmente que aprendeu a parte superficial e vistosa das filosofias, sem lhes penetrar a essência. De volta ao Brasil, não consegue se firmar em uma carreira ou ofício: primeiro se retira a uma chácara, em luto pela morte da mãe; depois se envolve com uma mulher casada e nesse adultério se vê com algumas perspectivas modestas de serviço público, as quais não chegam a se concretizar; ambiciona ser ministro, mas não consegue; chega a ser deputado, por pouco tempo e em trajetória medíocre; inaugura um periódico, que logo se encerra. Por fim, já avançada a idade e nada de substância tendo sido conquistado, surge-lhe uma ideia fixa, que lhe promete as maiores glórias: um emplasto capaz de curar a hipocondria. Por conta dessa ideia, contudo, acaba por se distrair, pegar um pé de vento, adoecer e morrer. Uma vida de sessenta e quatro anos termina. Vida sem significado, mas que pôde ser vivida assim muito por força de não ter precisado ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto.
O defunto autor, ao se debruçar sobre sua vida, cujas imagens parecem ser as únicas que lhe restam do outro lado, mesmo que sem intenção consciente acaba fornecendo ao leitor um novo olhar sobre a existência, posto fragmentário e melancólico, o qual constitui a grande herança deixada pelo livro. Fragmentário porque, naturalmente, Brás Cubas não se lembra de tudo, tampouco é onisciente a ponto de saber o que de fato aconteceu em algumas situações ou com pessoas ao seu redor; dessa forma, a recapitulação da vida produz várias dúvidas e sugestões que jamais poderão ser respondidas ou confirmadas. Melancólico porque a vida de Brás Cubas, apesar de sua idiossincracias, não difere muito da de todas as pessoas: acontecimentos se sucedem, aspirações, decepções, banalidades, e, ao fim e ao cabo, é como se a vida, caso suprimida, pouco alterasse o curso geral das coisas. Nesse cenário, o único trunfo de Brás Cubas, que o diferencia dos seus pares, parece ser a capacidade de achar graça do que em verdade é trágico, entremeando aqui e ali, na narrativa dos acontecimentos sem sentido, considerações ao mesmo tempo sábias e desoladoras. O romance de Machado de Assis é sutil e repleto de afirmações apenas insinuadas; em Brás Cubas, é como se orientasse o leitor, nas entrelinhas, a se voltar à vida num exercício de narrativa articulada e perscrutadora de humor - ao menos de humor - como um dos poucos recursos viáveis a lhe atribuir sentido e unidade - ainda que somente a unidade do sujeito que a narra.
O caráter fragmentário da vida e suas memórias se expressa no romance machadiano através da forma. O livro rompe com as convenções da época, exigentes de uma narrativa linear com começo, meio e fim, para ter por início a morte do protagonista, suceder-se em acontecimentos sem ligação evidente, e entremear-se de pensamentos, observações e imagens que só lá na frente - e nem sempre - serão completados em seu sentido. Por esse expediente, Machado insinua ao leitor que a narrativa da vida pode revelar algum sentido fragmentário e não absoluto, além da unidade do sujeito que a narra e do alívio cômico que confere.
Sendo Machado de Assis o grande gênio que é, a leitura de suas obras são sempre o prenúncio de releituras para o leitor que abraça a literatura e o humano como projetos de vida. Não só as obras permitem aprofundamento segundo a força e insistência do leitor, como também há toda a vasta fortuna crítica, capaz de enriquecer e esclarecer o texto sobremaneira. Estas, por ora, são minhas primeiras e superficiais impressões.
Como fiz a leitura pela edição da Antofágica, é forçoso elogiar as ilustrações de Portinari, numerosas e de extrema qualidade. Portinari optou por privilegiar retratos dos personagens do livro em vez da representação de cenas, conseguindo assim ser mais expressivo, na medida em que este é um livro de poucos acontecimentos, cujas reflexões e sugestões psicológicas preponderam.
Uma associação que fiz no curso da leitura e que pretendo explorar posteriormente é a do capítulo intitulado O Delírio com o poema A Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Provavelmente alguém já os estudou de forma comparada, visto que o diálogo entre eles é evidente.
Por fim, sugiro o vídeo do canal “Better than Food”**: nele, é possível ver o entusiasmo de um um leitor estrangeiro com as MPBC.
*Meu vídeo sobre O Alienista, de Machado de Assis: https://youtu.be/LhNsTZ8LtFY
**Vídeo do "Better than Food" sobre MPBC: https://youtu.be/pB1ayNNrSik
Para comprar este livro***: https://amzn.to/39zajnA
***comprando por este link você ajuda o Diário de Leitura com uma pequena porcentagem da sua compra.



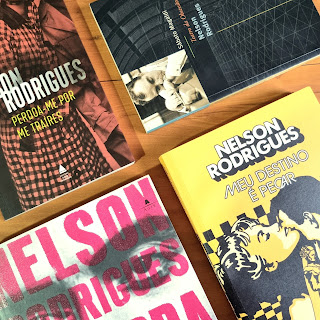
Comentários